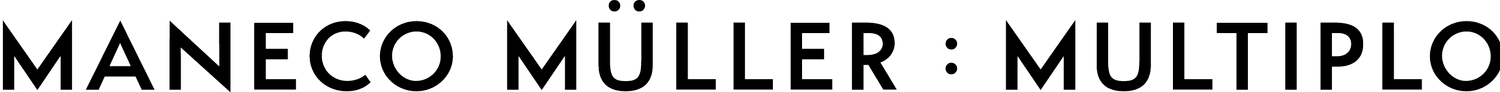Antonio Dias | Aquarelas e colagens | 17 abril - 22 jun 2013
Para onde vai a libido?
Paulo Sergio Duarte
Ainda há quem pense que o desenho é preparação para alguma coisa. Pior: há quem pense que o desenho é linha. Vocês acham que chegou ao pior? Não, existem ainda os que pensam que a obra de arte pode ser classificada pelo seu “suporte”: papel, tela, metal, mármore, etc. São aqueles que transferem as normas técnicas da museologia para a apreciação da arte, aquela chamada de “fruição estética”. Já sabemos; o que não falta é estupidez no mundo, por que iria faltar na arte?
O papel, na obra de Antonio Dias, desde 1976, não tem nada a ver com suporte. Desde que ele decidiu viajar ao Nepal e, na convivência com uma comunidade de artesãos, decidiu fabricar o próprio papel, ficou óbvio que não se tratava de “fabricar” mais um suporte. Papéis de alta qualidade não faltavam na Europa onde residia. A busca tinha a ver com uma reviravolta existencial com equivalente virada na linguagem da obra.
Não estou aqui, de nenhum modo, menosprezando os magníficos desenhos que me despertaram a grandeza de sua arte que vi pela primeira vez na galeria Relevo, ali na avenida Nossa Senhora de Copacabana, entre a rua Rodolfo Dantas e a rua Duvivier, a galeria de Jean Bogichi. Os desenhos que vi nos anos 1960 eram magníficos, e eu invejava meu amigo José Sanz que possuía dois deles em sua sala. Para logo descobrir os formidáveis trabalhos da exposição “Opinião 65” que extrapolavam muito os desenhos. Mas essa anedota vai no sentido de sublinhar a importância que adquirem as obras chamadas “em papel” de Antonio Dias, depois de 1976, que estão longe de poder sofrer a classificação de desenhos, ou simplesmente obras em papel.
O papel aqui é um ambiente plano no qual o artista vai intervir. Mas não é qualquer ambiente, nada a ver com cubo branco ou tela crua, praça pública ou fachada de edificação. Ele o produziu, escolheu sua textura e coloração. Mais do que isso, aprendeu com os artesãos, escolheu seus limites, escolheu os seus bordos, tal qual numa embarcação, cada trabalho é uma nave que recebe seu destino e sua tripulação.
Poucas vezes escolhe um papel pronto, mas mesmo este não obedece à regência dos limites convencionais. Mais uma vez somos chamados a pensar a ideia de campo. A arte contemporânea quando se manifesta poeticamente com elevada potência não pode prescindir desse conceito importado da física. Poderíamos pensar vários campos. Por exemplo, o campo gravitacional: certos trabalhos caem, outros ascendem. Mas a ideia do campo eletromagnético, um campo elástico – varia conforme a carga que lhe é impregnada –, é sem dúvida o mais presente nesses ambientes em papel.
É claro que se passarmos a olhar desse modo, os trabalhos começam a adquirir outra dinâmica. Existe o exercício inédito da aquarela sobre esses ambientes fabricados. A graça da aquarela sempre esteve na perda do controle do artista sobre o meio, o vigor específico da técnica se faz presente, e Antonio não deixa escapar seu rigor construtivo e tenta de todo modo controlar até onde pode o que a aquarela lhe impõe. Aqui fica evidente que técnica e poética estão juntas, são a mesma coisa. O campo e sua tensão estão dados. A tinta invade o desenho das figuras que lhe são aplicadas, o ambiente os absorve e acaba por determinar os limites de um e de outro. Mas o ambiente, não esqueçamos, foi determinado pelo artista, não é um suporte, absolutamente não se trata de uma obra sobre papel. O papel aqui não é um coadjuvante, é protagonista, e merece o Oscar, a Palma de Ouro e o Urso de Prata.
E por esse mundo do show-business em que a arte se embrenhou nos esquecemos de que essas obras, pela sua escala, podem ser pensadas como fragmentos de peles, tatuagens de corpos imaginários, pedaços de nós mesmos projetados em sonhos em que nos rejubilamos ou pesadelos em que nos mal tratamos. Momentos de felicidades e tristezas, às vezes juntos, às vezes separados. Essa produção de sentido que se dissemina está inteiramente amarrada naquele campo de tensão no qual a questão sexual é evidente. Não se trata de sensualidade, o que amorteceria e faria uma maquiagem sobre o sentido do trabalho.
Trata-se de modo evidente de um pensamento maior, mais denso, de modo claro e direto. Sem as evidências vulgares do mundo pós-pop, estamos de novo lidando com sensações. E essas sensações não têm outra matéria que não seja a de uma política freudiana. O destino dessas embarcações de papel é uma pergunta. Cada imagem, cada figura, cada textura, cada campo, pergunta: para onde vai a libido? A sua, a minha, a nossa. Uma economia libidinal, desaparecida durante todo um período da obra, pelo menos de 1968 até 1976, insinua-se e retorna com as obras onde está presente o papel nepalês.
Diz Heidegger que pensamos que sabemos o que é a técnica quando nos fartamos de fazer uso da visão instrumental da técnica. “Tudo depende de se manipular a técnica, enquanto meio e instrumento, da maneira devida. Pretende-se, como se costuma dizer, ‘manusear com espírito a técnica’. Pretende-se dominar a técnica. Este querer dominar torna-se tanto mais urgente quanto mais a técnica ameaça escapar ao controle do homem.”[1] Em 1953, o filósofo estava preocupado com o modo de a humanidade lidar com a técnica moderna fazendo uso da razão instrumental, aquela que na época estava presente desde as grandes represas até no avião a jato; hoje, desde a nanotecnologia até os gigantescos aceleradores de partículas. Mas o artista aqui não lida com a técnica moderna, aquela que explora a natureza. Trabalha com aquela técnica cuja essência Heidegger ainda vai encontrar nas Afinidades eletivas de Goethe. O filósofo vai numa obra de arte, no romance entre Eduard, Charlotte e Ottilie, encontrar a palavra que transforma a concepção de perdurar (fortwähren), aquele que já foi o para sempre, para continuar a conceder (fortgewähren). E avança: “Ora, se pensarmos agora de modo mais profundo do que até aqui, o que dura propriamente e talvez até unicamente, deveremos, então, dizer: ‘somente dura o que foi concedido. Dura o que se concede e doa com força inaugural, a partir das origens’.” [2] Fica evidente que o “com força inaugural, a partir das origens” é pura contribuição de Heidegger à construção da palavra por Goethe que disse “continuar a conceder”, no lugar de “perdurar”. Heidegger força sua visão e modo de pensar e nos diz: “Dura o que se concede e doa com força inaugural, a partir das origens”. Ora, estamos nos aproximando do que seria a essência de uma técnica que não é aquela contemporânea que ingênuos engenheiros pensam que dominam. Três verbos estão agindo na essência desse momento da técnica: durar, conceder e doar. Logo a essência de alguma coisa poderia ser aquilo que dura porque concede e doa. Não tem nada a ver com aqueles “universal” e “genérico” nos quais caberiam todas as subespécies. Isto é, para Heidegger, não tem nada a ver com o sentido “escolar” de essência. Distante da técnica moderna, as aquarelas sobre papel artesanal nessas obras são aquilo que dura, concede e doa; na sua essência permanece algo perdido no mundo contemporâneo que na Era Técnica quer tudo, menos conceder e doar. E muito menos pensar a essência de alguma coisa.
As aquarelas e colagens no campo de papel nos concedem e doam uma economia da libido e abrem seu destino para serem poeticamente pensadas. Esses fragmentos sonhados têm sua poesia feita para durar naquele sentido maior: embarcações cujo destino é perguntar e refletir sobre as possíveis respostas.
Rio de Janeiro, fevereiro de 2013.
[1] Heidegger, Martin. A questão da técnica. In: Ensaios e Conferências. Tradução: Emmanuel Carneiro Leão. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001, p. 12.
[2] Op. cit., p. 33-34.